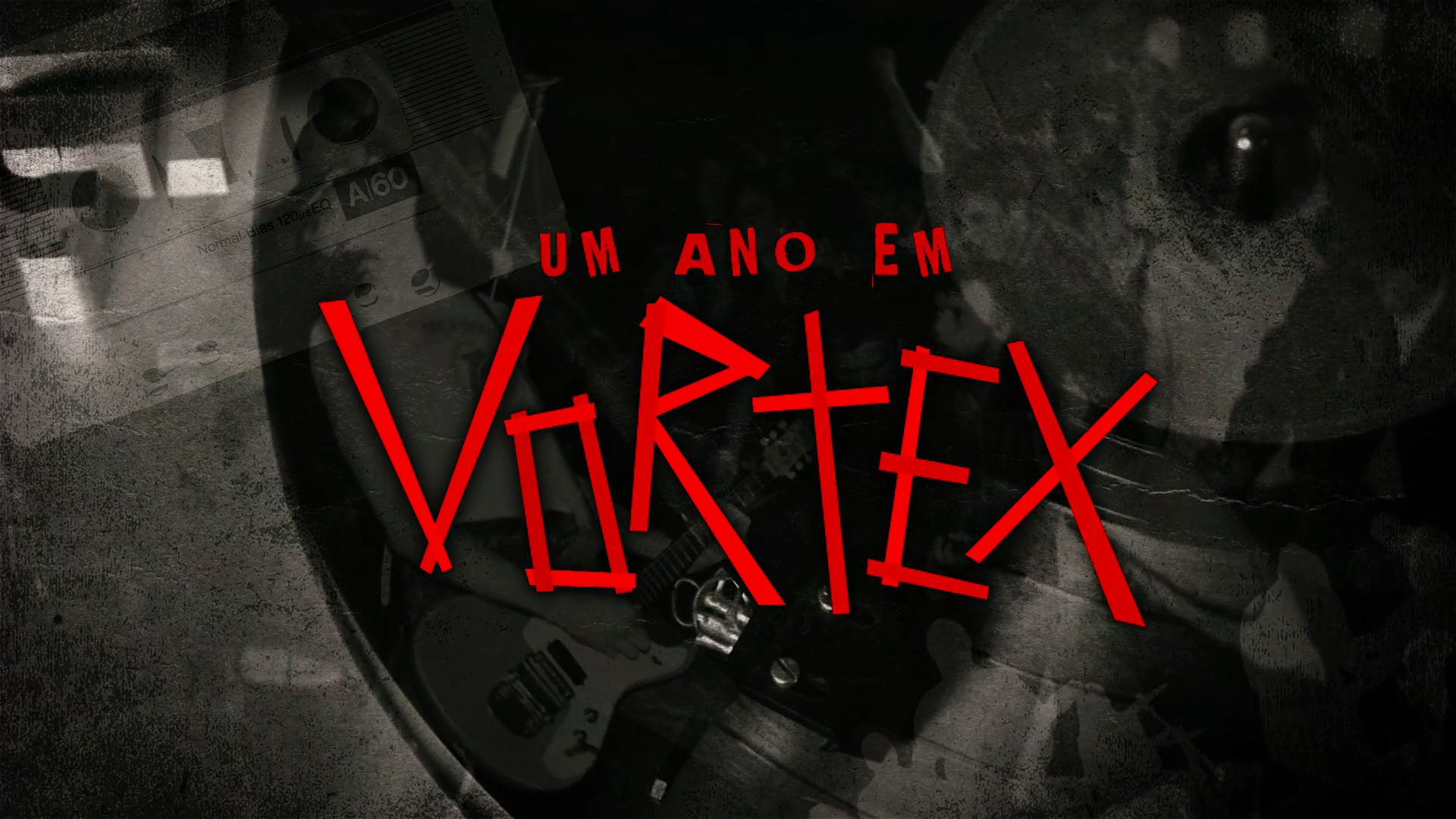A edição brasileira de “Operação Shylock”, romance de Philip Roth (Companhia das Letras, 1994), está esgotada e é bem difícil de encontrar. Andei atrás por todos os sebos de Porto Alegre, e nada. Consegui comprar pelo correio, de alguém que não conheço, graças à Estante Virtual (www.estantevirtual.com.br). Faço a propaganda de graça porque o site, embora seja comercial e certamente lucrativo, presta um serviço de utilidade pública: quer coisa mais útil e pública que encontrar um livro que se procura faz tempo?
Roth, judeu e norte-americano, fez da questão judaica, em seus inúmeros aspectos, o principal tema de sua obra. Em “Operação Shylock”, ele coloca no liquidificador ficção, idéias, reportagem, entrevistas, narrativa histórica, metalinguagem, uma boa dose de absurdo, bate bem e nos oferece um coquetel de gosto estranhíssimo, mas que qualquer leitor interessado pelos problemas do Oriente Médio – inclusive árabes e palestinos – deveria tomar. Além de ser gostoso de ler – para quem gosta de coisas estranhas – o romance é um impressionante e permanente choque de discursos sobre o estado de Israel, a Palestina, os territórios ocupados, sionismo, anti-semitismo, o holocausto, a diáspora e os judeus espalhados pelo mundo
Eu sou um goy descendente de italianos e alemães, de formação católica, educado por jesuítas no Colégio Anchieta e há muitos anos tratando com os irmãos maristas da PUCRS. Minhas filhas estudam no Colégio Rosário, também marista. Adquiri a maior parte do meu conhecimento sobre as questões judaicas através da arte, especialmente o cinema e a literatura. Sobre o Holocausto, perdi a conta das vezes que assisti aos documentários “A noite e a névoa” (de Alain Resnais, que, acho, não era judeu, mas usou o texto do judeu Jean Cayrol, sobrevivente dos campos de extermínio, como base de seu filme) e “Nos braços de estranhos” (de Mark Jonathan Harris), títulos que uso regularmente em minhas aulas. Aliás, nunca é demais mostrar as cenas do Holocausto e falar sobre ele para as novas gerações, nestes tempos em que um revisionismo maluco e insistente – parte dele originado no Rio Grande do Sul – pode estar fazendo algumas vítimas ingênuas.
Também lembro de ter visto, mais ou menos recentemente, bons longas realizados por judeus: “Exuberante deserto” (deAdama Meshuga'at), “Valsa para Bashir” (de Ari Folman), “Os falsários” (de Stefan Ruzowitzki) e “O piano” (de Roman Polanski). Isso sem falar dos óbvios “A vida é bela”, “A lista de Schindler” e toda aquela série de filmes hollywoodianos chatos que se passam em campos de concentração. E é claro que aprendi um pouco sobre judeus com Woody Allen.
Imagino que também aprendi alguma coisa com Kakfa, Joseph Heller (“Alguma coisa mudou” e “Gold vale ouro” são maravilhosos), Saul Bellow, E.L. Doctorow, Norman Mailer e, é claro, com o próprio Roth. Ah, não custa lembrar que Freud, Marx e Marcel Proust também eram judeus. E que “O diário de Anne Frank” continua sendo recomendado em escolas, inclusive católicas, do mundo todo. Enfim, minha vida intelectual – e também a pessoal – está cheia de judeus. Não me queixo. Guardo excelentes lembranças dos dois anos em que atuei como professor no Colégio Israelita. Moro há mais de vinte anos no Bonfim e arredores. Não vejo qualquer traço de caráter, comportamento ou atitude que distinga, em essência, meus amigos e conhecidos judeus de outros grupos humanos. Nem a sovinice, tão alardeada, considero maior do que entre os cristãos com quem convivo. Mas, sem dúvida, ser judeu é uma espécie de marca, quase uma “grife”, que não consegue evitar a convivência com muitos estereótipos, inclusive alguns bens ilustres, como o que Shakespeare ajudou a construir ao criar o usurário Shylock em “O mercador de Veneza”. Ser judeu é fazer parte de um longo e poderoso processo histórico.
Quando fiz a listas de cineastas e escritores judeus não levei mais de quinze minutos. Seria igualmente fácil listar vários amigos, colegas e conhecidos judeus. Normal: eles fazem parte da minha vida e carregam essa marca bem evidente. A questão é a seguinte: quanto tempo eu demoraria para fazer uma lista de cineastas e escritores árabes, mais uma lista de amigos, colegas e conhecidos árabes. Me dêem algumas horas e talvez seja pouco. Por quê? A marca não é tão evidente? A imigração árabe em Porto Alegre é muito menor? O processo de miscigenação foi mais rápido? A cultura árabe tem mais dificuldades em circular na mídia? Um pouco de tudo isso? Por que só me vêm à cabeça a simpática família libanesa que administra o Restaurante Lubnam, ali ao lado do Shopping Total, e em que não canso de comer esfihas, falafel, mjadra e chanclichi? E, entre os milhares (não estou exagerando) de alunos que já tive na universidade, por que a minha memória não é capaz de lembrar de pelo menos alguns nomes árabes? Lembro dos rostos, lembro de saber que tinham ascendência árabe, mas não “cataloguei-os” como árabes.
Se eu fosse francês, com certeza a situação seria bem diferente. Mesmo morando a apenas quatro meses em Paris, a presença árabe já se impôs em minha vida. Moro no Jardin des Plants, a menos de duzentos metros da maior mesquita da cidade, e posso ir a pé no Instituto do Mundo Árabe, onde, aliás, além de ver uma maravilhosa mostra de arte islâmica, comi na lancheria do térreo um dos melhores doces da minha vida, o divino Mouhallabié (flan libanês ao leite perfumado de flor de laranjeira, servido com xarope de açúcar e pistache ralado). Há livrarias especializadas, restaurantes árabes em cada esquina e muita gente andando na rua que é a cara do Zidane, o argelino que deu à França uma Copa do Mundo. Na universidade vejo estudantes do mundo todo, mas a presença muçulmana é expressiva, com algumas alunas usando aqueles inequívocos lenços na cabeça e em volta do pescoço (antes deixavam apenas os olhos de fora, mas uma resolução do governo francês proibiu o que considerava uma manifestação religiosa num ambiente laico e público).
Mas o que são quatro meses de convivência com a cultura árabe em Paris perto dos meus cinqüenta anos de Porto Alegre e vinte de Bonfim? Na literatura, para enfrentar aquele timão da Judéia, e sem poder olhar minhas estantes em casa, consegui lembrar apenas do inglês-paquistanês Hanif Kureishi, de quem conheço quase toda a obra e com quem dei muitas risadas ao ler há pouco “Tenho algo a te dizer”. E mais nada. No cinema, lembrei de vários filmes iranianos e já estava listando o excelente “Lemon Tree” (de Eron Riklis), que me parecia um filme palestino, quando uma rápida pesquisa no Google mostrou que é uma co-produção Israel-Alemanha-França. Na mesma pesquisa, contudo, foi fácil encontrar filmes recentes que parecem ser ótimos e que eu ainda não vi: “Paradise Now”, do palestino Hany Abu-Assad, sobre homens-bomba, que fez sucesso até em Israel; “The Time That Remains”, de Elia Suleiman, que tem origem palestina; “Occupation 101: Vozes de uma maioria silenciada”, de Sufyan Omeish e Abdallah Omeish; e “Palestina”, produzido por Simone Bitton. Eles existem, mas eu não vi. Por quê?
Antes de tudo, acho, falha minha. Tenho que verificar com mais cuidado as prateleiras da Espaço Vídeo. Eles devem estar lá. E dar um jeito de ver ao menos os filmes árabes e palestinos que participam de festivais, ganham prêmio, boas críticas e certa notoriedade, depois mal entram em cartaz e já desaparecem. Internet é pra isso. Mas também há uma outra resposta. O departamento de RP dos livros e filmes judeus parece ser um pouco mais poderoso que seu equivalente árabe. A relação dos judeus com Hollywood é evidente, e isso faz toda a diferença do mundo num planeta comandado pelo marketing audiovisual. Resumindo: as questões judaicas estão na pauta, enquanto para escutar as questões árabes é preciso um bom esforço. Em Teoria da Comunicação, isso se chama “Agenda Setting”. Ora, sabemos que o atual antagonismo entre o Estado de Israel e os árabes, em especial os palestinos, é uma história fundamental do nosso tempo. E essa história não pode ser narrada por um lado só.
É por isso, meus amigos árabes e judeus de Porto Alegre, que recomendo a leitura de “Operação Shylock”, antes de qualquer outra obra de grandes méritos que citei anteriormente (mas não esqueçam de Kureishi). Foi escrita por um americano judeu que não defende lado nenhum, muito pelo contrário. Roth parece estar profundamente irritado com os dois lados. Expõe, um a um, os argumentos de árabes e judeus, para depois rir deles. Faz uma literatura verborrágica, quase indigesta, como é indigesto o conflito. Um livro desses não poderia estar esgotado, nem ser difícil de encontrar. “Operação Shylock”, como se não bastasse, narrado em primeira pessoa por um personagem chamado Philip Roth às voltas com um sósia que tem o mesmo nome, é o doloroso relato de um escritor sobre suas idiossincrasias e paranóias, presentes com freqüência em judeus, mas também em árabes, italianos, japoneses, inuits e demais povos do planeta. Roth escreve: “Deixei a varanda da frente na Leslie Street, comi do fruto da árvore da ficção, e nada, nem a realidade, nem eu, voltou a ser o mesmo desde então.” Acho que também comi. Ainda bem.