Em Sapucaia ninguém descansa em paz, muito menos no cemitério municipal. Os ladrões entram à noite e levam todo bronze, alumínio e latão que conseguem carregar. Isso pra não falar dos fios de cobre da rede de iluminação, que, surrupiados, além de renderem um dinheirinho, ainda garantem a continuidade da escuridão para as próximas incursões de rapinagem tumular. As pobres almas sapucaienses são depenadas sem dó nem piedade. Como os familiares dos mortos aparecem só no dia de finados, as reclamações indignadas são no começo de novembro. Dali até o Natal, o cemitério reforça um pouco a vigilância e troca os fios e as lâmpadas do sistema de iluminação, dificultando um pouquinho a vida dos ladrões. As famílias mais abonadas recolocam as placas, os puxadores, as cruzes, e, a partir de janeiro, a roubalheira recomeça, para a alegria das sucatas da cidade.
As famílias mais pragmáticas já encontraram uma solução: ao recolocar as placas metálicas afanadas, em vez de gastar com bronze ou aço, tascam no túmulo uma identificação de plástico. O sepulcro ganha um ar desanimado de repartição pública, mas a vida, ou melhor, a morte, continua. Assim, no próximo finados, pelo menos se evita aquela discussão interminável sobre o endereço eterno do vovô. Quanto aos puxadores de bronze dos blocos de granito ou mármore, simplesmente não são repostos. O vovô não reclama, e os ladrões têm de seguir em frente, até encontrar um defunto com familiares menos pragmáticos e com mais dinheiro pra jogar fora. O Japa, repórter do jornal semanal da cidade, já fez algumas matérias denunciando os roubos, mas para nós, da Terceira DP, correr atrás daqueles ladrões pés de chinelo era algo impensável. Os mortos que se danassem. Nosso problema era evitar que os vivos fossem para o cemitério antes do tempo, coisa, infelizmente, cada vez mais comum.
Ladrão, contudo, às vezes é bicho burro. E, quanto mais amador, mais burro. Um gatuno experiente sabe que ganância demais é ruim para a profissão, e jamais faria o que fizeram os imbecis que depenaram o túmulo do pai do prefeito na mesma noite em que ele foi enterrado. O senhor Demóstenes Braga, progenitor do excelentíssimo intendente da cidade, ganhara um jazigo novinho em folha, já que a família Braga tinha se mudado para Sapucaia há vinte anos e não queria enterrar seus mortos frescos em Campinas das Missões, onde estavam seus membros mais antigos. Como, obviamente, sabia dos saques constantes, o prefeito gastou os tubos para construir a maior e mais segura capela mortuária do cemitério, uma imponente edificação com paredes grossas de pedra e uma porta de barras de ferro protegida por um grande cadeado. A placa de identificação, afixada na parede externa, era discreta, de aço inoxidável, e estava presa com rebites bem grandes. Lá dentro, ao alcance dos olhos piedosos dos passantes, mas longe das mãos pecaminosas dos larápios, os blocos tumulares de mármore tinham grandes puxadores de bronze, e uma pequena estátua de um anjinho ajoelhado, do mesmo metal, fora colocada sobre um altar sofisticado, feito de pedra e alumínio escovado. Coisa chique, bem acima da média sapucaiense, como, pensava o prefeito, era sua obrigação oferecer ao velho pai.
O concorrido enterro foi às cinco da tarde. Poucas vezes o cemitério viu tanta gente engravatada. Eu estava lá, sem gravata, mas com minha melhor camisa. Vieram prefeitos e vereadores das cidades vizinhas. Todos elogiaram a beleza da capela. O prefeito disse que preferia um sepulcro ao ar livre, mas, infelizmente, isso era impossível, bastava verificar como estavam os túmulos ali perto. Então elogiaram a inteligência do projeto, que reunia bom gosto e segurança. Se todos os cidadãos agissem assim os marginais não teriam tanta moleza. Às sete da noite foram todos embora. Entre esse horário e as seis da manhã do dia seguinte, o cadeado sumiu, os puxadores de cobre desapareceram, todo o alumínio escovado do altar foi surrupiado e a estátua do anjinho foi ajoelhar em outro lugar, provavelmente o forno industrial de alguma sucata clandestina do município. Não levaram os blocos de mármore porque eram pesados demais.
O delegado Xavier recebeu a ligação do prefeito antes das nove da manhã. Eu tinha encerrado meu plantão e estava jogando conversa fora com o escrivão Clemenciano antes de ir pro Majestade tomar café. Xavier me chamou, já coçando o sovaco, sinal de que o dia começava da pior maneira possível. Ele disse:
“Depenaram o túmulo do pai do prefeito. Levaram até um anjinho de bronze, mandado fazer em Porto Alegre. Tu vai achar o anjinho e botar esses filhos da puta em cana.”
“O anjinho já era, chefe. A essa altura está fundido. Fundido e mal pago. O trocadilho é infame, mas o senhor sabe que é verdadeiro.”
“Não interessa. Temos que mostrar serviço. Descobre quem roubou e quem aceitou a mercadoria. Isso também vai servir de lição pra todos essas merdas donos de sucata. Pode molhar bastante a mão dos teus informantes, que a nossa caixinha tá cheia.”
Xavier me passou quinhentos reais, uma quantia excepcional para uma investigação de roubo. Ele sabia que essa seria a maneira mais rápida de chegar a um resultado positivo. Há muitas maneiras de fazer uma investigação. Gosto de ver filmes policiais, principalmente os antigos, mas às vezes também vejo alguns mais novos, em que os policiais coletam provas usando conhecimentos científicos e equipamentos sofisticados. A cena do crime é esquadrinhada e, inevitavelmente, algum traço do marginal acaba sendo descoberto. Em Sapucaia não há perícia. Temos que chamar de Porto Alegre ou Novo Hamburgo, o que só acontece em casos importantes: assassinato, latrocínio, assalto a banco ou coisa parecida. Roubo de metal de cemitério não é crime desse tipo, e eu sabia que o Glênio, o perito que geralmente trabalha com a Terceira DP, não viria me ajudar. Assim, minha visita ao cemitério foi mais pra falar com as pessoas do que pra examinar a cena do crime. Conversar, fazer perguntas, ouvir, essas são minhas especialidades.
O administrador, que se chamava Laércio e tinha um ar desolado, queixou-se da precariedade de recursos para a segurança. Havia apenas um vigilante contratado, que não tinha condições de controlar toda a área do cemitério. Os ladrões sempre agiam rapidamente, aproveitando quando a ronda levava o vigilante para longe. Já tinha acontecido do segurança correr atrás de um suspeito e descobrir que era um truque pra afastá-lo de determinado jazigo. Perguntei há quanto tempo esse vigilante estava trabalhando ali. Mais de cinco anos, disse Laércio. E o folguista também era de confiança: três anos de serviço. Peguei o endereço dos dois, e fomos dar uma olhada no túmulo roubado. Já tinha um sujeito trabalhando pra colocar um outro cadeado na porta de ferro, arrumar os estragos no altar e substituir os puxadores. Só não vi um novo anjinho de bronze. Anjinho é mais complicado pra substituir que cadeado. Examinei a tranca onde ficava o cadeado. Estava intacta. Nem a tinta tinha sido arranhada. Ele não tinha sido estourado na base da força bruta. Ou os ladrões eram muito bons na arte de abrir cadeados, ou eles tinham a chave. Perguntei pro Laércio se a chave ficava no cemitério. Ele disse que não. Devia estar com o prefeito.
Os dois vigilantes não conseguiram acrescentar qualquer coisa de útil ao que o administrador dissera. Os roubos aconteciam porque tinham que acontecer. O vigilante que estava no cemitério não ouviu nada. O folguista dormira em São Leopoldo, na casa de um irmão. Perguntei se eles suspeitavam de alguém. Eles riram. Podia ser qualquer um dos milhares de habitantes necessitados de Sapucaia. Pensei: o que inclui esses dois. Mas eu continuava apostando que o trabalho fora executado por amadores. Fiz a ronda das sucatas da cidade. Comecei pelas registradas e relativamente confiáveis. Ninguém sabia de nada. Todos disseram que jamais aceitariam material furtado do cemitério. Estavam mentindo, é claro. No caso específico, entretanto, eu acreditei neles. Mesmo amadores, os ladrões deviam saber que era mais seguro vender o produto numa sucata fora da cidade.
Se eu fosse passar em cada uma delas, e mesmo que percorresse apenas os municípios mais próximos – Canoas, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo -, perderia alguns dias de trabalho. Tava na hora de usar os quinhentos reais entregues pelo Xavier. Fui pro Majestade, meu escritório informal, e pedi uma cerveja. Faltavam cinco minutos para o meio-dia, e havia pouca gente nas mesas e no balcão. Apesar do Majestade não oferecer refeições, era comum o pessoal das vizinhanças tomar um aperitivo e comer um ovo duro antes de almoçar. Ao meio-dia e meia, o bar já estava lotado. Sidmar, um ex-assaltante que ganhava a vida com o comércio informal de material eletrônico, sentou ao meu lado no balcão. Paguei uma cerveja pra ele e contei sobre o roubo do túmulo do pai do prefeito. Ele riu bastante. Disse que esse tipo de delito estava muito abaixo das minhas capacidades. Era melhor esquecer. Eu disse que tinha um bom dinheiro pra descobrir os autores do delito, por mais baixos que eles fossem.
“Nesse caso”, disse Sidmar, “a coisa muda de figura. Quanto, exatamente, está disponível?”
“Trezentos reais.”
“O que o cara tinha no túmulo? Ouro?”
“Tinha um anjinho de bronze. Uma obra de arte.”
“A obra de arte pesava quantos quilos? É o que importa quando vai pra sucata.”
“A obra enfeitava o túmulo do pai do prefeito.”
“Então o ladrão é um idiota.”
“Exatamente. Quero saber o nome do idiota.”
“Vou tentar.”
Não apareceu mais ninguém no Majestade. Eu estava morrendo de fome, mas, antes do almoço, ainda consegui falar com a Neusa. Contei pra ela sobre o roubo e pedi que ela entrasse em contato com Patricinho, um amigo dela que já me ajudara em outros casos. Disse que uma informação precisa valeria pelo menos trezentos reais. Eu estava separando duzentos reais para algum imprevisto. Ela sorriu, satisfeita, já antecipando compras no shopping Total, em Porto Alegre.
Resolvi almoçar perto do cemitério. Tinha aberto uma lancheria nova, que dava vista para as túmulos, e eu gosto de conferir as novidades da culinária sapucaiense. O prato feito era bem servido. Fiquei lá mais de duas horas, puxei assunto com todos os vagabundos que apareceram, e alguns disseram que era comum ver os ladrões pulando o muro do cemitério. Mas achavam que nem mesmo um ladrão muito pé de chinelo seria tão burro a ponto de depenar o recém falecido pai do prefeito. Um rato – “com todo o respeito, inspetor Otávio”- certamente apareceria pra investigar uma cagada daquelas, e o bom de depenar o cemitério é que depois nunca acontece porra nenhuma.
Passei no hotel onde a Neusa trabalha. Tive que esperar a saída de um cliente. Ela telefonou para Patricinho, que disse que não havia novidades. Só me restava o Sidmar. Pedi o celular da Neusa emprestado e liguei pra ele. Sidmar estava muito mal-humorado:
“Porra, Otávio. Já falei com todas as sucatas do vale dos Sinos. Ninguém comprou porra nenhuma de anjinho. Esse anjinho que se foda. Tô caindo fora.”
Pensei: tá na hora de usar minha verba emergencial.
“Consegui mais dinheiro, Sidmar. São quinhentos reais.”
Ele sentiu o baque.
“Quinhentos? Caralho! Vou tentar mais um pouco.”
Voltei pra delegacia. Xavier coçou violentamente o sovaco quando eu disse que não tinha conseguido nada.
“Chegamos ao fundo do poço”, declamou, exagerado. “Nem pra isso essa porra de delegacia funciona. Vou pedir transferência pra casa do caralho. Nem uma pista? Uma mísera pista?”
“O cadeado não foi forçado. Ou os caras eram muito bons, ou tinham a chave.”
“Isso não é pista, inspetor. Isso não é porra nenhuma. Tu tá fora do caso. Devolve o dinheiro.”
Clemenciano bateu na porta. Havia uma ligação pra mim. Fui atender na mesa do escrivão e logo reconheci a voz de Sidmar.
“Pode depositar meus quinhentinhos, inspetor.”
“Dá o serviço.”
“Hoje de manhã um anjinho de bronze apareceu numa sucata de Porto Alegre. O vendedor era jovem, bem vestido e tinha um Vectra branco com umas rodas bonitas.”
“Qual é a placa do carro?”
“Quer demais, né, Otávio? Sabe aquelas rodas que envolvem a parte de cima do pneu e deixam ele mais fininho?”
”Sei. Carro de playboy.”
“Exatamente.”
“Qual é o endereço da sucata?”
“Sem chance. Não vou queimar a minha fonte, inspetor.”
“Tá certo. Deposito amanhã.”
Desliguei, já com uma idéia do que poderia ter acontecido. Contei para Xavier sobre a minha suspeita. Ele achou que eu estava me precipitando. Eu disse que assumiria a bronca, caso estivesse errado, e ele acabou concordando. Como as viaturas estavam todas na rua, peguei um ônibus até a casa do prefeito. A casa era rodeada por muros bem altos. Uma empregada doméstica de uniforme atendeu a porta. Mostrei minha identidade funcional, e ela ficou assustada. Eu disse que só tinha algumas perguntas de rotina pra fazer.
“Qual é o modelo de carro do prefeito?”
“Desculpa. Não sei nada de nomes de carro.”
“Qual é a cor?”
“Preto.”
“E só fica esse carro na garagem?”
“Não. Tem o carro do seu Carlinhos.”
“Quem é o seu Carlinhos?”
“O filho do doutor.”
“O seu Carlinhos está?”
“Não.”
”Quantos anos ele tem?”
“Dezenove, acho.”
“Qual é a cor do carro dele?”
“Cinza bem escuro.”
Não é sempre que se acerta. Eu tinha errado. Pior: prometera quinhentos reais em troca de uma informação imprecisa e insuficiente. Comecei a caminhar de volta para a parada de ônibus. O sol estava forte. Comecei a suar muito. Lembrei que estava acordado há mais de vinte e quatro horas, o que não seria um problema para mim, mas era para quem estava ao meu lado no ônibus lotado: o desodorante vencera, e a minha catinga era de matar. Os pobres coitados à minha volta não tinham para onde ir e começaram a me lançar olhares ferozes. Baixei o braço e tentei me segurar nas alças dos bancos, mas não adiantou grande coisa. Eu não podia fazer nada; eles que aguentassem.
Então ouvi uma música alta, um funk que estava na moda, falando de um sujeito que comprara um fogão Dako e descobrira as maravilhas do sexo anal, uma letra que bem demonstrava a incrível criatividade
dos músicos cariocas. A música ficou ainda mais alta. Um carro branco, luzindo de tão limpo, com as janelas abertas, passou pelo ônibus no sentido contrário, e a música começou a diminuir. Foi rápido, mas consegui ver três coisas: era um Vectra, as rodas eram de playboy e havia dois sujeitos no carro.
“Vou descer!”, gritei.
E saí empurrando todo mundo, na direção da porta dianteira. Meu fedor deve ter ajudado, pois logo abriu-se um corredor, e eu consegui forçar o motorista a parar o ônibus. Desci. Um sujeito botou a cabeça pra fora da janela e gritou, enquanto o ônibus arrancava:
“Vai tomar um banho, gordo fedorento!”
Engoli aquela. Ele tinha razão. Mas o banho ficou pra depois. Vi o Vectra entrar à esquerda e desaparecer. Pensei em pegar um táxi, mas estava sem dinheiro algum. Um ônibus demoraria muito. Eram poucas quadras, e resolvi ir a pé. O sol estava cada vez mais forte. Minha camisa ficou empapada. Senti que a calça também estava molhada nos fundilhos. Cheguei à casa do prefeito em estado lastimável. Bati a campainha. A empregada não conseguiu conter um ar de nojo ao me ver e, logo depois, sentir o poder de meus aromas naturais. Ouvi dizer que antigamente as mulheres consideravam aquele odor uma prova de masculinidade e até o achavam sensual. A empregada com certeza não conhecia esse importante detalhe da evolução humana. Perguntei:
“O filho do prefeito chegou?”
“Agorinha mesmo.”
“Ele está com um amigo?”
“Como o senhor sabe?”
“Eu vi eles passando de carro.”
“É. O seu Xandinho tá com ele.”
“O carro desse Xandinho é branco?”
“É. Ele botou na garagem.”
“Tenho que falar com os dois.”
“Vou perguntar se…”
“Agora!” E empurrei a porta. Ela nem tentou me deter. Devia estar meio anestesiada pelo meu cheiro.
“Onde eles estão?”
“No quarto do seu Carlinhos. Lá em cima.”
Subi a escada sentindo cheiro de maconha, que me guiou direto até o quarto. Abri a porta e entrei. Um estava esparramado na cama, devia ser Carlinhos, o filho do prefeito. O outro estava sentado no chão, segurando uma ponta de baseado acesa. Olharam para mim como se estivessem frente a frente com um animal selvagem que fugira do zoológico. Um grande, ameaçador e muito fedorento animal selvagem. Eu não fiz o menor esforço para desmentir essa imagem. Mostrei rapidamente a identidade e disse para o que estava no chão:
“Apaga esse baseado.”
O guri quase engoliu a ponta ainda acesa, mas Carlinhos tentou bancar o durão:
“Isso é invasão de domicílio. Vou chamar o meu pai, e ele vai te foder.”
“Pode chamar. Aí eu já explico pra ele que o filhinho querido roubou o túmulo do próprio avô e vendeu tudo numa sucata de Porto Alegre.”
Os dois ficaram brancos. Tive uma certa pena deles. Eram tão jovens, tão inexperientes, e já estavam se fodendo com a lei. Ao mesmo tempo, ao contrário dos muitos jovens que já mandei pra cana, eles tinham todo o conforto do mundo. Roubar um túmulo, mesmo que isso seja fácil quando se tem a chave, é coisa de vileiro, e não de playboy. Como os rostos dos dois já mostravam – sem qualquer dúvida – que eram culpados, passei à fase seguinte:
“Vocês têm trinta segundos pra me dizer porque fizeram essa merda. Se demorarem mais que isso, vou algemar os dois e levar direto pra delegacia.”
Os dois se olharam. O filho do prefeito levantou-se, fechou a porta, que eu deixara aberta ao entrar, e disse:
“Sou estudante de direito e conheço a lei. Vou ficar quieto e chamar um advogado.”
“Se eu te prender, com toda certeza tu vai poder chamar um advogado.”
“Então nós não estamos presos?”
“Já disse: contem tudo, em trinta segundos, que eu vou pensar a respeito.”
“O que nós levamos pertence à minha família”, disse Carlinhos. “Não posso ser condenado por roubar a mim mesmo.”
“Vou prender vocês pela invasão ao cemitério e por porte e consumo de maconha.”
“Tu tá brincando, seu gordo fedorento.”
“Agora tenho mais um motivo: desacato à autoridade.”
Com toda a calma, peguei as algemas no bolso da calça, mas fiquei de olho no guri, que parecia prestes a fazer uma besteira. Dito e feito: ele tentou me empurrar. Como eu estava preparado, antes que aquelas mãozinhas afundassem na minha barriga, joguei todos os meus cento e trinta quilos pra cima dele, derrubando-o sobre a cama ao mesmo tempo que aplicava uma chave de braço. Algemei-o em cinco segundos. Quando levantei, vi que o meu suor pegajoso tinha manchado as roupas elegantes do guri. Bem feito. O amigo continuava no chão, uma estátua muda. Talvez tivesse engolido o baseado. Seria a coisa mais inteligente a fazer. Mas, ao olhar para ele, percebi que a ponta estava na sua mão. Aqueles dois eram igualmente trouxas.
“Vão falar agora?”, perguntei. “Ou posso chamar o camburão?”
“Eu falo”, disse o amigo, que não estava mais entorpecido. A ficha tinha caído, e ele estava apavorado.
“Fica quieto, caralho”, ameaçou Carlinhos. “Esse gordo de merda não…”
Teve que engolir o final da frase. Dei uma porradinha leve, mas suficiente para tirar o fôlego do imbecil por alguns minutos. Sempre é arriscado meter a mão em parente de político, mas, mesmo conhecendo pouco o prefeito, achei que ele ia acabar me agradecendo. O amigo ficou ainda mais apavorado e começou a falar bem rápido:
“A gente tava precisando de uma grana.”
“Pra quê?”
“Pra saldar uma dívida.”
“Porra! Fica quieto!”, sussurrou Carlinhos, pegando um ar.
“Se falar mais uma palavra, leva outro tabefe.” E ergui a mão. Carlinhos calou a matraca. O amigo continuou:
“Eu não posso ser preso. Meu pai me mata.” Olhou para mim, com a expressão de uma criança de seis anos, e continuou: “Se eu contar tudo, o senhor me deixa ir embora?”
“Depende. Mas é melhor contar logo.”
“Eu e o Carlinhos estamos devendo uma grana prum cara. Ele tava nos ameaçando. Disse que ia nos foder. A gente roubou porque precisava pagar esse cara.”
“O que vocês compraram do cara? Cocaína? Ecstasy? Crack?”
“Não. Nós somos da erva. Coisa natural.”
“Caralho! O que vocês compraram? Tu já tá enchendo meu saco.”
“Putas.”
“E desde quando dá pra comprar putas a crédito?”
“É um serviço novo. O cara disse que podíamos usar à vontade e pagar no final do mês.”
“Como funciona?”
“Primeiro a gente ligava pro cara. Depois ele passou a oferecer. Dizia que a gente era cliente vip.”
“Como é o nome do cara?”
“Guilherme. Mas não sei se é o nome de verdade. Nunca vimos o cara.”
“Me dá o número do telefone.”
O guri deu. Sabia de cor. Aqueles dois deviam estar comendo uma puta por dia.
“Me dá esse baseado.”
O guri estendeu a mão. Peguei a ponta e joguei pela janela.
“Desaparece da minha frente.”
O guri saiu correndo. Sentei ao lado do Carlinhos.
“Agora vamos nos entender, meu filho. Teu amigo tá liberado. Eu sei como são as coisas quando se tem a idade de vocês. A gente faz cagada sem perceber. Nós vamos dar uma solução para o problema.”
“Que solução?”
Tirei as algemas dele. Os pulsos estavam vermelhos. Os olhos também. O guri tinha chorado um pouco.
“Tu vai ligar agora pra sucata de Porto Alegre e perguntar se o anjinho já foi pro forno. Se não foi, tu vai lá, devolve o dinheiro e pega o anjinho de volta. Tô cagando pras outras coisas, mas o anjinho tem que voltar pro túmulo.”
“Eu preciso do dinheiro pra pagar o cara das putas,”
“Não precisa mais. Me dá teu celular.”
Carlinhos tinha um desses celulares que parecem um computador, cheio de desenhos e números. Uma merda de alta tecnologia. Meus dedos não conseguiam acertar as teclas. Ele teve que me ajudar pra fazer a ligação. Pedi pra ele colocar em viva voz. Uma voz masculina empostada e com sotaque paulista atendeu,
“Alô.”
“É o Guilherme?”
“Sim. Quem está falando?”
“É o inspetor Otávio, da Terceira Delegacia de Polícia de Sapucaia. Estou aqui com dois clientes seus, clientes vips, que me explicaram como é que funciona o teu esquema.”
“Que esquema? Não sei do que o senhor está falando.”
“O nome técnico é lenocínio. Todo mundo chama de putaria. No teu caso, putaria a crédito, que é um negócio novo aqui em Sapucaia.”
“O senhor está enganado. Passe bem.”
“Guilherme, se tu desligar esse telefone vou acabar com teu negócio ainda hoje. Prendo os teus clientes vips, prendo as putas e depois te prendo. Tu vai passar um tempo agenciando teu próprio cu no Presídio Central. Tá me entendendo?”
Silêncio. Falei mais alto:
“Tu tá me entendendo?”
“Estou.”
“Vamos zerar a conta do Carlinhos, que é filho do nosso prefeito, e do amigo dele, o Xandinho. Tu tava ameaçando eles, o que é delito muito mais grave que lenocínio. É coisa de marginal. Eles não devem mais nada. Tá certo?”
“Eu não sabia que ele era filho do prefeito. Teria dado um prazo maior.”
“Prazo maior, o caralho! Ele não deve mais nada. Estamos de acordo?”
“Estamos.”
“Ótimo. Manda tuas putas a crédito onde tu quiser, mas não ameaça mais ninguém. Da próxima vez tu vai em cana direto.”
E desliguei o telefone.
“Agora liga pra sucata”, ordenei para Carlinhos, que estava muito surpreso.
Ele ligou e começou a conversar com alguém no outro lado da linha. Quando desligou, esboçou um sorriso.
“O anjinho tava indo pro forno, mas mandei eles segurarem.”
“E os puxadores?”
“Ele disse que vendeu, mas consegue uns iguais. Ninguém vai notar”
“Ótimo. Vai lá agora e bota todo o material na mala do teu carro. Eu te espero aqui. Enquanto isso, vou tomar um banho. Nem eu tô me aguentando.”
O quarto tinha um banheiro privativo, com uma banheira imensa, redonda, cheia de jatinhos. Parecia jacuzi de motel. Eu não tomava banho de imersão há muitos anos. Carlinhos me mostrou como a banheira funcionava, me passou uns sais de banho e saiu. Eu enchi aquela piscina e me refestelei. Que beleza! Pena não ter umas cervejas pra tomar no meio daquela espuma. Batidas na porta. A voz da empregada:
“O seu Carlinhos telefonou e mandou eu perguntar se o senhor está precisando de alguma coisa.”
“Tem cerveja na geladeira?”
“Tem, sim, senhor. Já vou trazer.”
Ela entrou com uma bandeja com a cerveja e um copo tulipa. Coisa chique. Me serviu e foi cuidar da casa. Vida boa. Liguei os jatinhos e deixei a água quente massagear minhas banhas. A empregada trouxe outra cerveja. Estava cansado, com sono atrasado, e dormi. Acordei com a voz de Carlinhos.
“Tudo certo, seu Otávio. As coisas estão na mala do carro. Eu trouxe umas roupas do pai. Talvez sirvam no senhor.”
O prefeito era grande e gordo, mas não era páreo pra mim. A calça não fechou, e a camisa ficou apertada, mas era melhor que colocar as minhas roupas molhadas de suor. Mandei o Carlinhos ficar me esperando a uma quadra da delegacia e levei o anjinho e os puxadores a pé até a mesa do Xavier, que ficou satisfeito e parou de coçar o sovaco. Eu disse que tinha feito um acordo e que era melhor deixar o receptador em paz. Xavier concordou. Quando saí, estava ligando pra prefeitura enquanto passava a mão no anjinho, todo sorridente. O Carlinhos me deixou em casa.
“Obrigado”, disse o guri.
“Te cuida.”
“Pode deixar.”
“Tu sempre usa camisinha com essas putas?”
“Sempre.”
“É bom mesmo. Tchau.”
Carlinhos foi embora. Eu passei no boteco da esquina, comprei duas cervejas e fui pra cama, ainda sentindo em meu corpo o cheiro bom dos sais de banho.

Ministério da Cultura, Santander e Prana Filmes apresentam MEMÓRIA VINTAGE: BANCANDO A ECONOMIA Entre 1 de abril e 29 de junho deste ano, no Farol Santander de Porto Alegre, acontece a exposição “Memória Vintage: bancando a economia”, dedicada a proporcionar um passeio lúdico e educativo pelo mundo dos negócios e do sistema financeiro. Além de […]
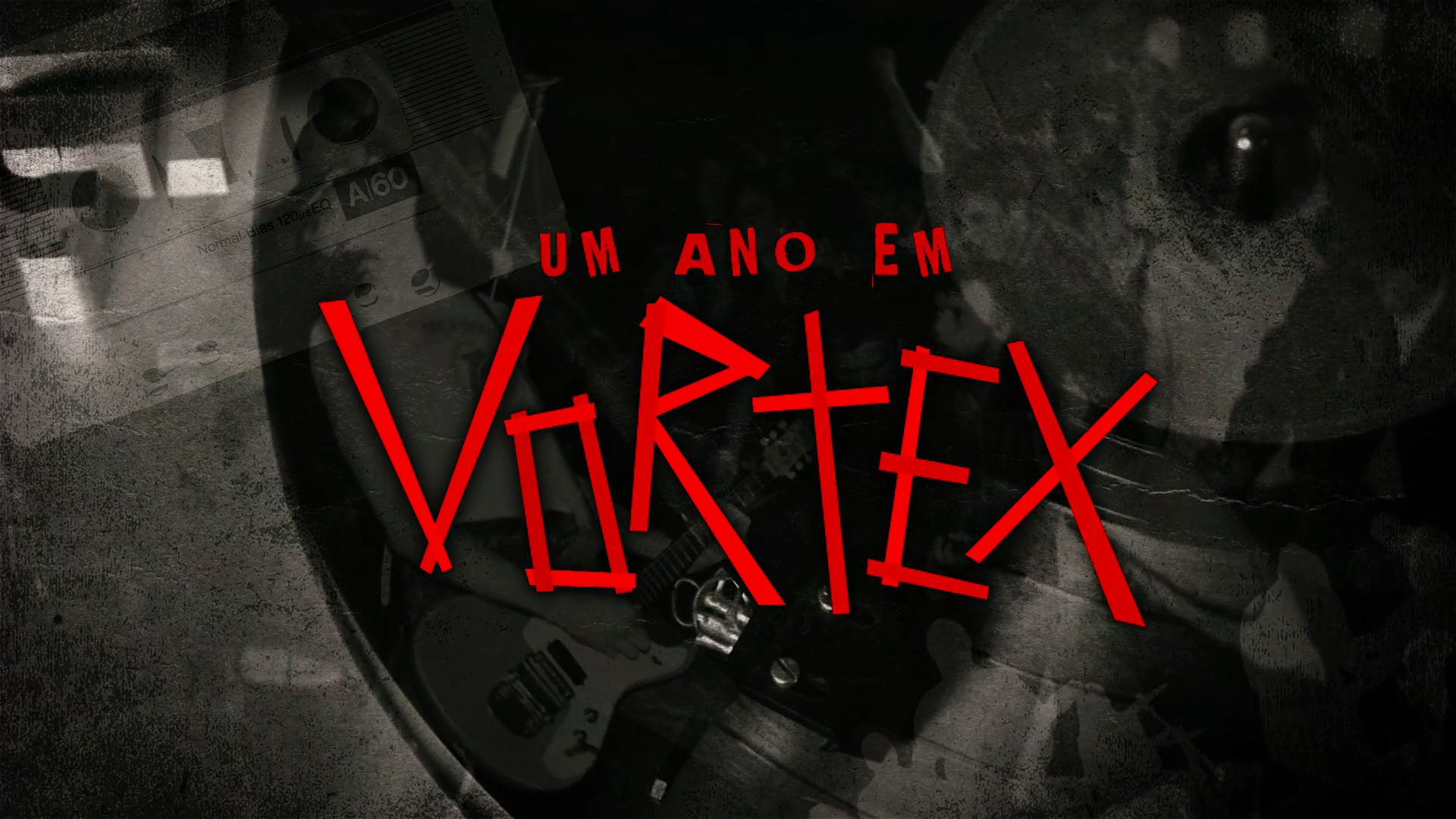
A série musical em sete episódios “Um ano em Vortex” estreia no proximo dia 29 de novembro, na Cuboplay. Na noite anterior, um show histórico, com as sete bandas da série, acontece no bar Ocidente (ingressos à venda no Sympla).

Sessão única de A Nuvem Rosa em Londres! 14 de novembro, com debate com a diretora Iuli Gerbase. Tickets à venda no insta do @cine.brazil

Filmada em 2021, ainda sob os efeitos da pandemia e cumprindo rigorosos protocolos de saúde, a série em 10 episódios “Centro Liberdade” começa a ser exibida pela TV Brasil no próximo dia 19 de julho. Resultado do edital “TVs Públicas”, a série foi escrita e dirigida por Bruno Carvalho, Cleverton Borges e Livia Ruas, com […]